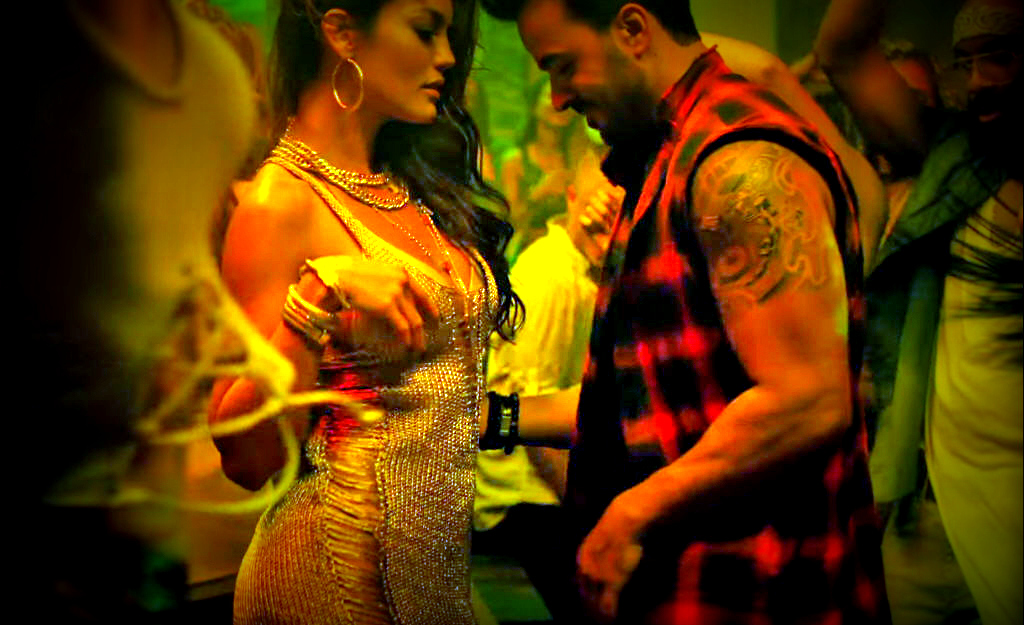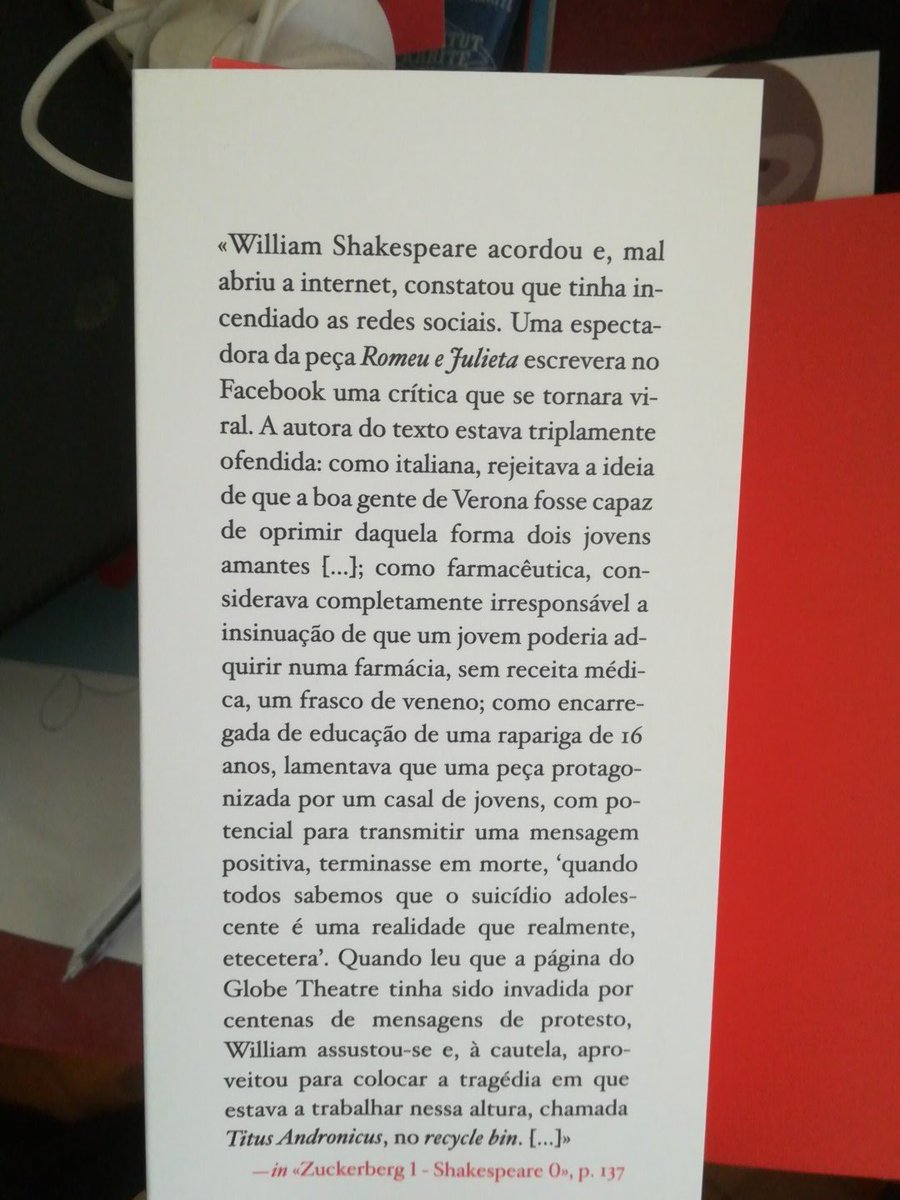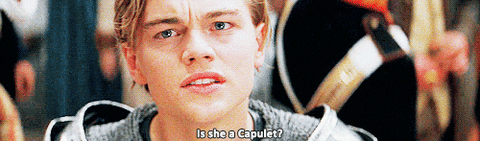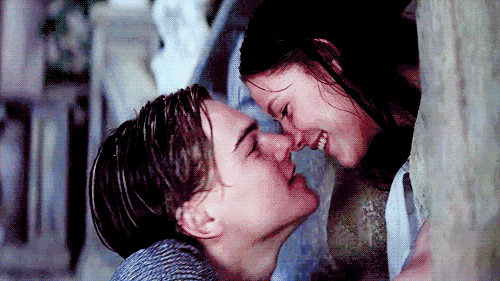«Estar vivo é o contrário de estar morto»
Lili Caneças - elaborando sobre um provérbio chinês
Falar sobre a obra de GMT é falar de toda uma galáxia de conceitos sugados ao universo da ciência, conceitos capturados de forma selvagem, para serem depois cruzados em cativeiro com um moralismo literário da espécie mais elementar, concretizado em expressões como a «psicologia do mal». Oremos irmãos.
Primeiro aspecto fundamental a reter: não só a obra de GMT é muito insípida em relação a questões de ambiguidade do comportamento, como é mesmo brilhantemente pífia no que respeita ao problema do mal. Há mais considerações relevantes, no que respeita à antropologia da maldade, nos comentários criminais de Moita Flores ou Carlos Anjos nas madrugadas da CMTV do que em toda a obra de GMT.
Dito isto, de que forma um académico sem cadastro, conhecimentos de criminologia, currículo político ou experiência de guerra, teria algo de interessante a dizer sobre a maldade, não se baseando em quaisquer fontes citadas? É o mistério que pretendemos desvendar. Em todo o caso, será possível uma literatura sem fontes, ou como diria Nabokov, sem factos? Não me parece. Com isto, não negamos a possibilidade de um escritor ficcionar (ou friccionar) situações no âmbito da psicologia do mal e dos usos da racionalidade (seja o panorama dos Campos de Concentração, a Revolução Russa, um passeio de sandálias carregando a fotografia de Kafka pelo deserto do Utah ou mesmo um jantar de grelhados com molho à espanhola, numa esplanada de Massamá na companhia da Cristina Ferreira). Mas fazê-lo, apelando a ganhos de conhecimento (as famosas explicitações sobre - e passo a citar - a condição humana), sem orientar o leitor sobre as fontes ou o panorama da literatura (trau) sobre o assunto, já me parece um exercício no mínimo insólito. Assim também eu.
Claro que o escritor pode apresentar os factos como lhe aprouver - é essa a liberdade maliciosa (trau) da literatura. Contudo, ao abordar tão directamente uma conhecida área da Filosofia, como seja a Ética ou a própria Filosofia da Linguagem, e ao trabalhar tão ingenuamente uma área das Humanidades como a História da Ciência, GMT está a percorrer um campo armadilhado, e é incompreensível que referindo tantas vezes GMT a expressão «investigações» (oremos) para caracterizar o seu trabalho - e tendo publicado um inenarrável livro intitulado Breves Notas sobre as Ciências -, a crítica, em vez de confrontar GMT com um discurso racional e informado sobre as - e passo a citar - investigações nas áreas respectivas abordadas pela sua obra, embarque nas obscuridades típicas da astrologia. Perdoem-me as pessoas mais sensíveis, mas em matéria de Ciência, GMT apresenta o mesmo nível de conhecimentos de uma Alexandra Solnado. E não se trata de uma questão de mais ou menos notas de rodapé. Como disse certa vez uma dama espirituosa da Corte de Luís XV, o problema de Madame de Chatelet é falar de ciência para pessoas que não entendem nada de ciência. E notemos que a tradução dos Principia de Newton, concretizada pela senhora Chatelet nos intervalos das suas cambalhotas com Voltaire (bendito seja), era até há poucos anos ainda a única tradução integral para francês das referidas investigações do filósofo de Cambridge.
Veja-se, a título de exemplo, o absoluto silêncio sobre as riquíssimas e férteis áreas da AI e da Ciências da Computação, tão imprecisa e desajeitadamente tratadas por GMT em muitos dos seus livros. Também nesta matéria sugiro desde logo uma comparação, por exemplo, com Italo Calvino (que escreveu páginas admiráveis sobre os desafios colocados pelo artifício e a máquina). É bom de ver, como síntese provisória, como GMT labora, com grande lucro, nos férteis territórios da indigência geral em matéria de ciência e filosofia, peço desculpa a todas as pessoas esforçadas.
Na verdade, estamos diante de uma obra saturada de problemas, sobre os quais existem toneladas de críticas estruturadas e publicadas de forma acessível, sem que os críticos tenham mostrado o menor interesse na resposta a duas singelas perguntas. 1) Se GMT pretende ter ambições epistemológicas e não meramente ficcionais, o que diz a Epistemologia, a Lógica ou a Filosofia da Ciência sobre os problemas (ou soluções?) ou teorias apresentados por GMT nas suas obras? Se a resposta a esta pergunta for invocar os célebres jogos de linguagem de Wittgenstein, estamos conversados. Vamos todos nadar para o rio Trancão que sempre é melhor.
Quero dizer, aos mais distraídos, que tanto a Lógica como a Filosofia da Ciência há muito integraram toda a complexa teia de problemas sobre a relação entre teoria, ficção/narrativa e verdade, pelo que nem um suposto estatuto de excepção do discurso ficcional, salva um autor com ambições epistemológicas da necessária crítica. Se GMT não pretende acrescentar nada de novo a esses campos, de um ponto de vista, diríamos (trau) técnico, mas simplesmente explorar o mundo ficcional (ou o mercado de doutorandos acéfalos, calma camaradas), qual a razão para se insistir ad nauseam nessas características, ditas racionais, em vez de se convocar a Estética, a Ciência, e a própria Teoria Literária para o julgamento da sua obra?
Eu tenho uma resposta, embora seja melancólica. As pessoas não têm tempo para ler, e mesmo quando têm algum tempo, sabem da existência de coisas mais relevantes, como esgalhar no pessegueiro ou escrever uma carta de amor. Ou simplesmente ir ler na diagonal uma obra de GMT e produzir um qualquer disparate a propósito, para progredir numa carreira Académica de Humanidades ou conceder uma entrevista ao suplemento cultural de um jornal de referência. E muito justamente, note-se. Parvo somos nós que ainda insistimos no conteúdo da verdade.
É curioso notar como, apesar do propalado conteúdo Lógico ou Epistemologicamente (trau) crítico das obras de GMT, as sinopses, os artigos, as teses de doutoramento e mesmo os comentários dos leitores, acabem sistematicamente a falar de problemas morais, numa insípida crítica das «máquinas» e outra tralha pós-moderna. Em grande medida, isto deve-se ao facto de o binómio mal/bem ser a mais elementar das dicotomias e também o mais fértil tópico literário, em termos de ganhos de curto prazo, na história da literatura.

Pequeno Excurso sobre eficácia literária
(o leitor mais interessado em imagens pode saltar para a próxima figura)
Na percepção do cidadão comum, a filosofia pós-moderna foi olimpicamente engolida pelas ciências, e isso tem consequências em prestígio e em poder de compra, a preços de 2017. Desse modo, numa pirueta circense mas eficaz (o próprio Teatro Praga não se tem saído financeiramente mal, segundo julgo saber) os departamentos de Filosofia, mesmo derrotados no campo da análise da língua (devido ao extraordinário avanço das neurociências e das linguagens artificiais) migraram para os Departamentos de Literatura, onde existia um vazio de tralha teórica, precisamente pelo facto de quase todos os grandes especialistas em literatura, ou seja, os grandes escritores, se estarem positiva e aritméticamente a borrifar para teorias de quinta categoria sobre o que é a literatura.
Todos nós sabemos que a invocação da racionalidade, da lógica, de uma certa estrutura semântica metamatemática, ou simplesmente proposicional, funciona na obra de GMT como mecanismo retórico e não como método sistemático e crítico no tratamento dos problemas abordados. É divertido constatar como os críticos (e mesmo alguns especialistas) não conseguem (ou não querem) dar por isso. Ora, este magnífico desvio em termos de estrutura textual - do imaginário novelesco e da história do romance - para o campo da epistemologia pós-moderna, é no fundo, uma fusão entre géneros literários, e nada tem a ver com a Lógica, e muito menos com a Matemática. Escapa a todo um grupo de tocadores de bombo com elogio fácil que, justamente, num nível elementar (precisamente aquele onde GMT se exercita) a Lógica não se funde facilmente com a experiência subjectiva.
Se existe qualidade Lógica na obra de GMT, isso desde logo devia ter uma consequência evidente: absorvida a mecânica da operação lógica (ou das suas operações lógicas) não necessitaríamos de repetir o exercício dezenas de vezes para provar a sua consistência, ou entraríamos na campo da estatística baiesiana. Porque não sintetiza GMT a sua reflexão lógica e crítica sobre ciências num livro de compreensão universal? A resposta é evidente: porque não sabe nada de Lógica e porque o seu negócio se assemelha menos à actividade de um Herbert Simon ou de um Frank Ramsey do que às elaborações estético-terapêuticas de um vendedor de Calcitrim.
Concluindo uma primeira ideia: a obra de GMT utiliza todo o arsenal conceptual pedido emprestado às indisciplinas saídas desse arraial de charros e mamalhudas, o Maio de 68. Já lá iremos aos exemplos, por agora interessa perceber o sucesso deste discurso anti-científico, anti-industrialista, anti-capitalista e anti-tecnológico.
Com efeito, através desta estratégia, GMT alcança um triplo objetivo: 1) consegue motivar um exército de estudantes, bolseiros, professores, investigadores, jornalistas, cineastas, a braços com a insignificância epistemológica das suas disciplinas num mundo altamente matematizado e controlado por linguagens artificiais, oferecendo-lhes um cheirinho de vitória; 2) sugere uma originalidade estilística pela mera introdução de originalidade verbal (e este é, sem dúvida, um mérito de GMT, ainda que relativo) invocando tópicos, imagens, e impressões extraídas do imaginário das ciências exactas num contexto literário e narrativo; 3) lança sobre as suas óbvias incapacidades narrativas (do ponto de vista da verosimilhança) um manto bastante espesso, feito de tópicos, imagens, leituras já filtradas por textos filosóficos da moda e muito conhecidos dos guardiões do sistema literário, os académicos literariamente falhados. Veja-se o absoluto desinteresse de GMT por textos, diria eu com tom professoral, fundamentais na história da racionalidade: Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Vico ou Rousseau, preferindo pasteladas delirantes, como Derrida ou Agamben. Os problemas do drop naming não são decisivos para a nossa questão, mas são reveladores da honestidade (peço desculpa), consistência e extensão do trabalho literário.

Curiosamente, o aplauso consensual (430 traduções em curso no planeta e espaço inter-galáctico) da obra de GMT, aparece como um sinal de prodígio literário universal. Isto sobre uma obra onde tanto se questiona a universalidade da razão, o que apenas pode ser lido paradoxalmente (trau) como uma prova cabal da (i) universalidade da razão ou (ii) da eficácia da propaganda e do efeito de contágio da submissão à autoridade. Creio que o próprio GMT, à luz da sua filosofia, se mostrará espantando, estando o mundo cheio de maldade, como foi possível achar-se universalmente aclamado, traduzido e entronizado antes dos 45 anos.
O que é muito interessante na sua afirmação como autor canónico (oremos) é precisamente a forma magistral como utiliza banalidades filosóficas (a ideia primária, sentimental e muito pouco rigorosa de humanismo) e cria um contexto verbal, retórico, pseudo-moderno. Sejamos justos, é também preciso reconhecer a sua enorme capacidade para construir metáforas de grande alcance comercial e mediático, explorando com competência os temas preferidos dos filósofos da moda. Numa entrevista à RTP2 GMT referiu: «a avaria (da máquina) cria a possibilidade de um novo humanismo». Mas basta um conhecimento residual da historia da ideia de humanismo (uma tecnologia de reflexão e comunicação criada pelas elites renascentistas a partir da sua paixão pela ciência, a técnica e as máquinas das culturas antigas) para percebermos os surpreendentes níveis de imprecisão em que trabalha GMT.
É que o seu toque a reunir contra a máquina funciona precisamente pelo facto de a máquina ser dominante, estimada e útil, e por isso, a avaria cria uma ideia de «crise» entendida como oportunidade. Ou seja, se apenas enquanto avaria, o humanismo é possível, estará sempre ameaçado quando a avaria for reparada. No fundo, GMT caracterizou a sua própria literatura, um humanismo (ou seja, uma amálgama frágil de boas intenções instintivas) que funciona nos intervalos escassos e deprimentes da enorme força criativa da máquina. Se isto é tudo o que temos para o problema da avaria, ou dito de outro modo, se à literatura já não resta outro papel a não ser o de um humanismo associado a uma civilização estragada, então, boa noite e boa sorte, estamos inteiramente fodidos. Felizmente, não é esse o caso. Há textos que são como máquinas que nunca avariam.

Contudo, quero deixar claro que ao apelar (sem sucesso) para aspectos característicos de uma linguagem racional (o que não é o mesmo que dizer uma utilização de processos críticos baseados em conhecimentos avançados de linguagens racionais) os livros de GMT são sempre variações, exercícios, ou investigações, como o próprio gosta de dizer, da mesmíssima pergunta: a razão despida do seu contexto (e do seu processo) pode tornar-se irracional? É uma boa pergunta, mas demasiado óbvia se considerada do ponto de vista comportamental (claro que sim, todos o sabemos) e tecnicamente muito difícil, se considerada do ponto de vista de uma avaliação crítica dos processos de racionalidade (embora a resposta também seja afirmativa) e só existiria novidade se GMT pretendesse dizer-nos que descobriu um método em que a razão nunca se torna irracional. Mas isto seria como pedir a Lili Caneças para comentar Ariosto em italiano.
Com efeito, o problema foi tratado por muita gente, incluindo o famoso Gödel, que me escuso de comentar, pois não tenho gabarito para tal (estão a ver pessoas das Humanidades?, reconhecer a ignorância não é assim tão difícil). De resto, Gödel (e todos os restantes deprimidos de Viena cerca de 1920) tem servido a uma série infinita de ignorantes para atacarem, de forma ingénua, as raízes da certeza matemática. No entanto, julgo que Gödel estava precisamente a tentar provar o contrário, nomeadamente, a existência de um mundo platónico onde as ideias são eternas, refutando a fundamentação material de toda a demonstração. O seu processo contra a Matemática não assentava num relativismo das formas de racionalidade, antes pelo contrário. Mas adiante, não queremos ficar malucos.
Posto isto, e este é o tremendo paradoxo, a obra de GMT não tem relevância crítica - do ponto de vista da ciência, como é óbvio - e torna-se (do ponto de vista da Lógica Formal) caótica, irrelevante e redundante, dispensando o seu conhecimento exaustivo, só tendo interesse para quem encontra no efeito estético dos jogos literários, o seu interesse (e bem). Não se justificando o seu conhecimento, como dizem as pessoas do Marketing, do ponto de vista do conceito, ou seja, da pergunta sobre os limites da universalidade da razão, pois a uma pergunta crítica responde GMT com repetições particulares do mesmo caso geral: a máquina é repetição, enquanto a humanidade é o improviso, a desorientação e a empatia com o sofrimento; será que resta alguma coisa de profundamente original na obra de GMT como experiência literária? Entramos aqui num admirável mundo novo, o terreno próprio da Crítica Literária, onde, desde há um século, apenas rebentam bombas e voavam estilhaços em todas as direcções. Tentemos pacificar esse território.
A metáfora e a experiência emocional
Consideremos a título de exemplo a obra de GMT Viagem à Índia:
O que é o passado? Isto: tempo que cada vez ocupa
menos espaço, e tal facto é visível na mala de Bloom.
O presente - agora, este momento -, pelo contrário,
ocupa todo o espaço que nos rodeia. Porém, deste latifúndio
que é o tempo neste minuto, amanhã pouco
que é o tempo neste minuto, amanhã pouco
restará: talvez, quem sabe, a senhora da limpeza tenha as
cinzas para varrer. Séculos inteiros guardam-se agora em
gavetas medíocres.
Enquanto o raciocínio é geral, GMT aguenta-se bem, a ideia de o passado ser tempo que cada vez ocupa menos espaço é interessante. Mas não demora cinco segundos a cair no moralismo mórbido, quando pretende ser mais rigoroso.
Enquanto o raciocínio é geral, GMT aguenta-se bem, a ideia de o passado ser tempo que cada vez ocupa menos espaço é interessante. Mas não demora cinco segundos a cair no moralismo mórbido, quando pretende ser mais rigoroso.
Núpcias da História com a imaginação
provocaram mais filhos e cópulas divertidas
provocaram mais filhos e cópulas divertidas
do que núpcias de verdade com
a boa memória. Uiva como os lobos, eis
a História do mundo; tem apetite, sente-se
isolada; a História é um fluido que
passa ao lado dos homens, fluido espesso
Mas, apesar disso, o homem considera-se
Importante - a espécie com o ofício de jardineiro.
Contudo, o planeta não é o jardim do homem criativo,
Nem do cientista fundamental, nem do general corajoso;
A espécie humana, sim, é um dos jardins do planeta,
O canteiro mais civilizado, é certo. Mas pouco mais.
Para o leitor descansar um bocadinho das minhas elaborações, vejamos a extraordinária perspicácia de um adolescente no GoodReads, comentando a mesmíssima obra:
«Leitura obrigada porque fui obrigado a ler pela escola e também porque deu-me a entender que ele foi coagido a escrever esse livro, porque não demonstra prazer na escrita. A sua decisão de ter as mesmas estrofes que "Os Lusíadas" levou-o a criar um monumento elegível a património internacional da arte de encher chouriços. O que ele escreve é aborrecido; irrelevante; repetitivo; tem ideias execráveis, apesar do seu curso em filosofia demonstra ser um ignorante das teorias filosóficas de que fala (por exemplo: a sua opinião sobre o consumismo na nossa sociedade);
Isto tem um nome: incapacidade de criar personagens. E uma preocupante incapacidade de representar a densidade dos problemas do comportamento humano. Bem sei que existe o argumento da «personagem plana». «As personagens sabem que são personagens» diz-nos o autor. Mas parecem não saber da existência de um escritor a construir a sua reputação à custa delas. O problema é que o campo ilimitado do raciocínio ou da combinatória (estafado por Calvino, Perec e Queneau, mas também pelos aforismos de Karl Kraus) tende a esquecer uma dimensão fundamental da natureza: os seus limites.
«Leitura obrigada porque fui obrigado a ler pela escola e também porque deu-me a entender que ele foi coagido a escrever esse livro, porque não demonstra prazer na escrita. A sua decisão de ter as mesmas estrofes que "Os Lusíadas" levou-o a criar um monumento elegível a património internacional da arte de encher chouriços. O que ele escreve é aborrecido; irrelevante; repetitivo; tem ideias execráveis, apesar do seu curso em filosofia demonstra ser um ignorante das teorias filosóficas de que fala (por exemplo: a sua opinião sobre o consumismo na nossa sociedade);
Isto tem um nome: incapacidade de criar personagens. E uma preocupante incapacidade de representar a densidade dos problemas do comportamento humano. Bem sei que existe o argumento da «personagem plana». «As personagens sabem que são personagens» diz-nos o autor. Mas parecem não saber da existência de um escritor a construir a sua reputação à custa delas. O problema é que o campo ilimitado do raciocínio ou da combinatória (estafado por Calvino, Perec e Queneau, mas também pelos aforismos de Karl Kraus) tende a esquecer uma dimensão fundamental da natureza: os seus limites.
A verosimilhança é um dos esteios da arte literária. É muito difícil sugerir a experiência da realidade a partir de mecanismos ficcionais. Ou se quisermos, através do prestígio da mentira. Ora, GMT é incapaz de mentir e por isso nada diz de verdadeiro - como facilmente faria notar um Oscar Wilde - passando logo a declarar a sua incapacidade, tentando fazer das fraquezas forças, quanto a mim, sem sucesso, embora lhe reconheça certa dignidade no esforço.
Na verdade, mesmo nas situações mais absurdas, seja o Nariz de Gogol ou a Metamorfose de Kafka, o espectacular talento desses escritores está na capacidade com que sugerem uma sensação de mundo real, no meio do mais absurdo cenário. Ao abdicar inteiramente da ficção - e repare-se como GMT chegou a citar o velho aforismo de Adorno sobre a impossibilidade da poesia depois de Auschwitz - no fundo, retoma uma velha crítica do entretenimento. GMT escreve para acordar consciências, para corrigir ilusões, para identificar a maldade. Ora, no que me diz respeito, quando ouço esta retórica de sonso, fecho logo os olhos para dormitar um bocadinho.
Mais um caso de Hiper-literatura?
Aqui devo fazer uma vénia a António Guerreiro. O seu conceito de hiper-literatura é a mais adequada expressão para designar alguns dos fenómenos contemporâneos, onde infelizmente Guerreiro não inclui GMT. A hiper-literatura só dialoga com a grande literatura hiper-literatura. Todos os restantes mecanismos ficcionais, o mais pequeno cheiro a best-seller ou mainstream, logo relegaria o livro para o mais fétido sub-mundo das cabeleireiras da Brandoa ou das vendedoras de farturas de Peniche. O autor da hiper-literatura recusa-se aliás a falar sobre o desempenho comercial dos seus livros, a suprema prova de que estamos diante de um génio. A hiper-literatura, como diriam os comentadores de futebol, prefere jogar «entre linhas».
Curiosamente, é neste terreno sagrado que brota um dos mais implacáveis projectos de marketing literário. Basta considerar os elogios quase religiosos com que o autor se fez rodear desde cedo - Viagem à Índia saiu logo com prefácios autoritários de Eduardo Lourenço e Vasco Graça Moura. Admitamos: GMT é uma máquina de sucesso; ficamos esmagadas com os níveis de espectacularidade. Afinal, há muito quem considere que Viagem à Índia será uma das mais importantes obras do século XXI - estando o século XXI a começar - o que é fantástico.
Claro que o comentário dos livros sagrados - e é isso que em grande medida GMT faz, invocando os filósofos da moda - sempre pagou bem na história intelectual do Ocidente. A sinopse de um dos últimos livros é sintomática: «surgem personagens, situadas em tempos indistintos, que serão também centrais em futuros livros.» No fundo, tal como nos encontros religiosos, ou nos congressos de Humanidades, em que todas as conclusões, por serem pífias e privadas de qualquer efeito demonstrado, consistente ou útil (a não ser para a carreira dos próprios) acabam sempre por invocar a necessidade de mais estudos, a promessa de que se voltarão a encontrar em futuros encontros (um pleonasmo digno do Paraíso, no fim, seremos todos salvos). Os livros servem para produzir mais livros, bem o sabemos, mas nesse caso, escusamos de fingir um ar tão sapiencial. No fundo, como bem sabia Cervantes, o romance conduz a outro romance, que conduz a outro romance, que conduz a outro romance, e no fim à loucura. Mas para saber isso, não era necessário tanto papel.

Em suma, o que podemos concluir. Nada. Quero terminar lembrando que a actriz preferida de Wittengestein (mais conhecido por Vicky, entre os amigos gauleses de Swansea) era Carmen Miranda. O homem detestava a filosofia profissional, abominava académicos e detestava mistificações. Se me pedirem a opinião, não seria tão intransigente. Acho Wittengestein algo excessivo. Como prémio a quem eventualmente chegou aqui, preparei um joguinho a partir do famoso Livro de Dança de GMT,
Você é concorrente! Venha Jogar!
Apenas um dos três poemas abaixo apresentados pertence ao grande GMT. Significa assim (segundo aritmética básica) que dois foram inventados por mim, agora mesmo, em cerca de dois minutos e meio, enquanto preparava uma sandes de atum e revia mentalmente a lista de compras da mercearia para o fim de semana. No final da aposta, e ao clicar nos respectivos encadeados líricos poderão obter a resposta a correta. Que comecem os jogos!
Metafísica
No fio do Trapézio em movimento.
Instalo-me nessa incerteza. Penso a
instabilidade do CORPO. A Sensação vital.
O INSTINTO da geografia: a visão
dos anjos. O trapezista HIPNOTIZA a morte com os pés
e na passada: Vê caminhar o espectro da MORTE
no infinito preso por um fio.
Confirmação
Confirmar o Círculo com os pés.
Comecei hoje a metafísica da casa: comecei por limpar
a pele.
O PARTO no PALCO deve evitar o sangue mas não o SUS‑
TO, espalhar a FISIOLOGIA dos anjos pelo público, libertar
a Religião e os animais no meio da Lógica do
óbvio e do Sensato. Confirmar Círculos com os pés.
Metodologia II
A Loucura é uma equação sem incógnita.
Um movimento contrário ao mundo. Como DAN-
ÇAR racionalmente, ferir o corpo nas arestas do universo.
Se as arestas libertam: não corras, dança e corta a rigidez da PALA-
VRA. O SANGUE não tem projecto definido.
Eu digo: a perfeita SOLIDÃO
é um movimento perpétuo. É
adiar a velhice por mais um dia.

Baby K

Giusy Ferreri
Roma-Bangkok (excerto)
Stacca dal tuo lavoro almeno per un po'
La vita costa meno trasferiamoci a Bangkok
Dove la metropoli incontra i tropici
E tra le luci diventiamo quasi microscopici
Abbassa i finestrini voglio il vento in faccia
Alza il volume della traccia
Torneremo a casa solo quando il sole sorge
Questa vita ti sconvolgeSe o assunto são as poéticas do movimento, prefiro, pois, este grande momento da literatura contemporânea, já aqui sublinhado, e protagonizado por Giusy Ferreri (Palermo) e Baby K (Singapura).